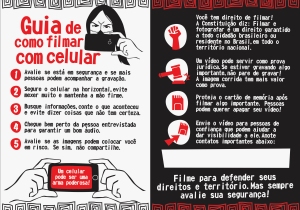Comunidade tradicional e mineradora disputam área rica em ouro na floresta amazônica. Enquanto processo se estende na justiça, trabalhadores e meio ambiente são prejudicados
 |
| O garimpo feito pelos moradores da comunidade São José é baseado em extração artesanal (Foto: Guilherme Gomes) |
Antônio Ferreira da Silva tinha apenas 15 anos quando chegou na Vila de São José, em 1970. Apesar da pouca idade, ele fora atraído pelos relatos de que aquelas terras, localizadas à beira do rio Pacu, um afluente do Tapajós, no Pará, eram ricas em ouro. Foi ali, em meio aos rigores da Floresta Amazônica, que ele aprendeu a empunhar picareta e pá e cavar o chão atrás do minério. Enquanto crescia, presenciou as transformações da vila: a chegada dos primeiros garimpeiros, os anos de intensa e violenta corrida do ouro, a calmaria que se seguiu e a formação de uma comunidade estável no local. “Eu já passei por fases boas e outras difíceis aqui. O garimpeiro é assim: ele pode até sofrer, mas quando ganha dinheiro esquece de tudo”, diz Antônio, que hoje trabalha no garimpo ao lado de dois filhos.
Durante os 45 anos que viveu ali, ele nunca precisou de documento para trabalhar nas minas da região. A posse das terras era mantida apenas na palavra. Mas tudo mudou em 2010, quando a Mineradora Ouro Roxo, que tem entre seus acionistas o grupo canadense Albrook Gold Corporation, pediu ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) a autorização para explorar uma área onde centenas de garimpeiros trabalhavam. Como eles atuavam ali de maneira informal, o órgão concedeu o pedido e os ocupantes foram expulsos do local. Segundo os habitantes da vila, antes da Ouro Roxo aparecer, garimpeiros locais já haviam feito o pedido para explorar a área, mas não receberam resposta do órgão.
São muitas as diferenças entre o modo como uma grande empresa atua e os garimpeiros locais exploram a terra. O fato dos trabalhadores morarem no local é determinante para a preocupação com os impactos ambientais, já que eles bebem a água dos rios, se alimentam da fauna e flora e sentiriam na pele qualquer tipo de contaminação. Os métodos que eles usam mudaram poucos desde os anos 1970 e são menos invasivos: são poços cavados no chão, que podem chegar a 30 metros de profundidade, e poucas máquinas para processar o material retirado da terra. Isso contrasta com a atuação das grandes mineradoras, que operam usando retroescavadeiras e outros maquinários de grande porte, causando mudanças mais radicais no meio.
A proteção ao meio ambiente foi um dos fatores citados em uma decisão liminar da Justiça Federal, baseada numa ação do Ministério Público Federal, que obrigou o DNPM a suspender a concessão em nome da Ouro Roxo e a analisar o pedido de lavra garimpeira dos moradores da vila São José. A decisão foi em dezembro de 2014. Até hoje, no entanto, o pedido dos garimpeiros não foi analisado, o que deixa a comunidade em situação frágil, sem contar com a posse formal da terra.
A formalização das atividades seria essencial para que os garimpeiros fossem instruídos e obrigados a cumprir as regras de preservação ambiental e de segurança do trabalho. A ausência dessas normas ameaça a própria vida dos trabalhadores. No dia 18 de setembro, quando a Repórter Brasil visitava a vila, um acidente tirou a vida de uma das principais lideranças do local. Osmar Silva, presidente da comunidade, inalou gás ao entrar em uma das minas, ficou inconsciente e caiu no fundo do poço, morrendo com o impacto. O luto parou a comunidade por dois dias. Segundo os moradores, esse tipo de acidente é raro no local. Ainda assim, ele poderia ser evitado se o garimpo fosse regularizado e os garimpeiros fossem instruídos a seguir as regras básicas de segurança do trabalho.
A regularização também é importante pelo fato de a comunidade estar localizada dentro da Área de Proteção Ambiental do Tapajós, que tem mais de 2 milhões de hectares e foi criada em 2006. Esse tipo de unidade de conservação permite presença humana maior do que os Parques e Florestas Nacionais. Ainda assim, as atividades econômicas devem ser planejadas de modo a preservar a fauna e a flora do local. Esse foi um dos fatores que norteou a ação do Ministério Público Federal, uma vez que foram constatados prejuízos ao meio ambiente no trabalho da mineradora.
Os moradores de São José denunciam, por exemplo, o uso irregular pela empresa de cianeto, um produto químico usado para tratar o rejeito do garimpo. Ele pode ser altamente tóxico se despejado no ambiente e contaminar rios e lençóis freáticos. “Eu não me agradei quando vi eles chegando aqui com as máquinas e os produtos químicos”, diz Osimar Alves Jesus, conhecido como Marcha Lenta, que era presidente da comunidade quando a mineradora começou a atuar na região. “Sempre reclamamos da falta de proteção ao usar o cianeto. Aquilo era derramado no igarapé, matava os peixinhos”.
O governo do Pará constatou irregularidades no uso do produto, incluindo rachaduras e furos no material usado para contê-lo. Na ação movida pelo Ministério Publico Federal, o órgão afirma que a empresa causa “graves impactos ao meio ambiente, à população local e, ainda, aos seus próprios colaboradores, vez que não armazena substância tóxica da forma devida.” Por não cumprir as condições ambientais, a ação pede que a licença ambiental da Ouro Roxo seja anulada. Procurada pela reportagem, a Mineradora Ouro Roxo não respondeu aos pedidos de entrevista.
Ouro sem febre
No imaginário brasileiro, os garimpos são terras sem lei, onde os conflitos são resolvidos a bala e o ouro desperdiçado em cachaça, jogos e prostituição. São José é o oposto dessa imagem. Uma comunidade pacata de 1.500 habitantes encravada na floresta. As casas e mercados da vila estão distribuídos em volta de um campo de futebol, que permanece vazio a maior parte do tempo e, aos domingos, sedia partidas entre times de garimpeiros. Uma escola atende 56 crianças, que brincam pelas ruas de terra quando não estão em aula.
É também ao redor do campo de futebol que se concentram os bares e bordéis em que os garimpeiros costumam gastar o ouro ganho durante a semana. Em São José, no entanto, as noitadas não têm mais a mesma intensidade de outros tempos. Em algumas noites, os cachorros da vila fazem mais barulho do que os bêbados, o que seria impensável nos anos 1980. Nessa época, quando foi garimpado muito ouro na região, os bares passaram a ficar lotados, e a violência explodiu. “Era muito comum as pessoas morrerem de facada ou de tiro. E o pessoal continuava bebendo e dançando em volta do morto, como se nada tivesse acontecido”, diz Mara, dona de um dormitório na comunidade.
Com o passar dos anos a vila se acalmou. A quantidade de minério retirado das minas diminuiu e a febre do ouro abrandou. Ao mesmo tempo, os primeiros garimpeiros envelheceram, casaram-se — alguns com as prostitutas da vila — e formaram famílias. As crianças cresceram, casaram e formaram uma comunidade ligada também por laços de sangue.
Iranilda Sales, por exemplo, chegou em São José no ano de 1967, com apenas cinco meses de idade. Seus pais vieram trabalhar no garimpo. Ali, ela se casou com Antonino Ferreira, teve três filhos e um neto. São quatro gerações de sua família que viveram ali, tirando sustento diretamente do ouro explorado na região. “Eu fico muito feliz quando consigo reunir toda a família para almoçar aqui no domingo. É uma satisfação muito grande”, diz, apontando para a mesa onde a refeição é servida.
Iranilda Sales (centro) chegou com cinco meses de idade. Ela se casou com Antonino Ferreira, conhecido como Rondônia, e hoje tem neto vivendo na vila.
Enquanto alguns garimpeiros desperdiçaram todo o ouro que coletaram, outros o usaram para comprar bares, lojas e investir no futuro da família. José Gilmar de Araújo, por exemplo, usa o dinheiro que ganha para pagar a mensalidades da faculdade de dois filhos que estudam fora. “Eu só sei trabalhar com garimpo. Se sair daqui, passo fome. Mas quero um futuro diferente para meus filhos”, diz.
A noção de que havia se instalado ali uma comunidade tradicional foi um dos principais argumentos usados na ação do Ministério Público Federal. As primeiras notícias de ocupação da área datam dos anos 1940, quando seringueiros exploravam a região. Com o fim do ciclo da borracha, garimpeiros começaram a atuar já nos anos 1950. Baseados em um parecer elaborado pelos pesquisadores Maurício Torres e Natalia Ribas Guerrero, os procuradores federais afirmaram que a Vila de São José tem características de uma população tradicional, que estava na região antes da empresa chegar e, por isso, teria o direito de garimpar a terra.
Corrida pelo título da terra
A posse da terra nunca foi motivo de muito debate em São José. De modo geral, ninguém era impedido de trabalhar em um pedaço de chão que já tivesse um dono, bastava ao garimpeiro pagar uma porcentagem pelo uso do local. “Aqui não tinha isso de assinar papel não, todo mundo sabia de quem a terra era. Era palavra de homem”, diz José da Costa, o Zé cabeludo, que trabalha na região desde 1978. “Foi só nos últimos anos que isso mudou, com a vinda de gente de fora.”
A prática foi alterada com a chegada da Mineração Ouro Roxo, nome inspirado num garimpo da região e da cooperativa que explorava o local. Em 2007, no entanto, a empresa dirigida por Dirceu Frederico Sobrinho comprou o direito de explorar a área da cooperativa e adotou o nome para si. Até hoje, essa compra é contestada na justiça, uma vez que apenas 14 dos cooperados receberam pelo negócio. Os outros 300 garimpeiros que atuavam no garimpo foram expulsos do local.
A maior parte dos trabalhadores expulsos passou a atuar em outros dois garimpos próximos dali: a Pimenteira e a Paxiúba. Mas foi aí que a comunidade sentiu o maior golpe. Em 2010, a mineradora também conseguiu o direito de explorar o subsolo dessas outras áreas. “Isso foi muito injusto. Todo mundo sabe que quem descobre onde tem ouro são os garimpeiros. A gente estava aqui trabalhando, mas como não tínhamos os documentos, perdemos a área”, diz Wanderley Pinheiro da Silva, presidente da Associação de Moradores de São José.
Em abril do mesmo ano, a Polícia Federal apareceu em São José, expulsou todos os trabalhadores que atuavam no local e apreendeu o maquinário utilizado. Como 90% dos garimpeiros da vila trabalhavam ali, a comunidade passou por sérias dificuldades durante os três anos em que as atividades ficaram paradas. O ouro sumiu das ruas e muita gente teve que ir embora para não passar fome.
O caso não atrapalhou a vida só dos garimpeiros. O ouro retirado das minas era responsável por fazer girar toda a economia local. Esterlito dos Anjos, por exemplo, é dono de um mercado na vila. Ele diz que teve um prejuízo de pelo menos 500 mil reais com a ação. “Muitos garimpeiros nunca puderam me pagar o que deviam. Essa ação foi uma barbaridade, uma brutalidade”, diz.
Foi aí que os moradores do local procuraram o Ministério Público Federal. Em 2013, enquanto o órgão analisava a questão, eles decidiram agir e reocupar os dois garimpos como forma de protesto. No final do ano passado a Justiça proferiu a primeira decisão sobre o caso, obrigando o DNPM a suspender a concessão de lavra à Ouro Roxo e a analisar os pedidos de permissão de lavra dos comunitários de São José.
Procurado, o DNPM diz que cumpriu a primeira parte da decisão, mas não identificou nenhum requerimento ou pedido formalizado pelos garimpeiros da Vila São José. “Portanto, legalmente, perante o DNPM quem detêm a titularidade da área é a empresa Mineradora Ouro Roxo Ltda”, afirmou o órgão em comunicado.
Segundo o advogado dos garimpeiros, isso não é verdade. Embora não haja requerimento feito em nome da comunidade como um todo, diversos moradores já deram entrada com pedidos no órgão. O Ministério Público Federal confirma ter informações sobre a existência desses requerimentos, O processo ainda está tramitando, e deve se estender por mais alguns anos até que tudo seja resolvido.
Enquanto esperam a decisão da justiça ou um acordo com a empresa, os garimpeiros não podem fazer planejamento ou investimento na área, pois correm o risco de perder a posse a qualquer momento. “Hoje dependemos da legalização para que possamos ter uma melhoria de vida. Com ela vamos poder conseguir do governo melhorias e empréstimos”, diz José de Alencar, presidente da Cooperativa de Garimpeiros que hoje atua na área.
Outro projeto que depende da regularização para ser posto em prática é o de reflorestamento de áreas já garimpadas. Segundo José de Alencar, existe um plano de criar uma cooperativa extrativista e plantar açaí e buriti em áreas de baixões que já foram explorados. “Queremos reflorestar o que nossos antepassados danificaram e assim, garantir a sobrevivência da nossa comunidade”, diz. “Nós precisamos da legalização do nosso pedaço de terra na Pimenteira e no Paxiúba. Pois essa terra foi de nossos avós, passou de geração em geração e um dia vai ser de nossos filhos.”
FONTE: Texto de Guilherme Rosa, de Jacareacanga, Pará | 17/10/15 para Repórter BRasil, disponível também
aqui.